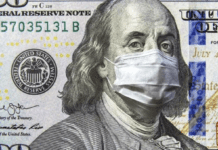O mundo empresarial descobriu que a geopolítica deixou de ser um risco periférico para se tornar a variável central de qualquer estratégia de longo prazo – Esta é a conclusão inescapável do mais recente relatório da seguradora de crédito Coface, que coloca números em uma sensação que tomadores de decisão já experimentavam na pele: o risco político global atingiu 41,1%, um patamar inédito na série histórica. Enquanto isso, a dívida pública mundial escalou para assombrosos US$ 338 trilhões, o maior nível desde o fim da Segunda Guerra Mundial, criando um cenário onde economias emergentes gastam mais com juros do que com saúde e educação. No centro dessa tempestade, emerge a figura de um Donald Trump redivivo, cujo “unilateralismo” é apontado como o principal motor de uma incerteza que já não é conjuntural, mas sim estrutural. Este artigo investiga as raízes dessa nova ordem, os números que a definem e o que ela significa para investidores, empresários e cidadãos que ainda acreditam na capacidade do Ocidente de se reinventar sem perder sua essência.
O relatório da Coface, amplamente repercutido pelo Jornal Económico e analisado pelo FGV Ibre [citation:1], não é um alarmismo isolado. Ele chega em um momento em que pesquisas globais, como a mais recente do Financial Times com seus leitores, mostram que 87% dos executivos sentem que a democracia e a estabilidade global se enfraqueceram no último ano [citation:3]. A palavra “geopolítica” deixou de ser um jargão de chancelarias para invadir as salas de reunião das empresas de capital aberto, os comitês de investimento dos fundos de pensão e as projeções de risco dos bancos centrais. O que antes era um ruído de fundo, tratado como um “cisne negro” ocasional, agora é a música tema de uma era onde a previsibilidade, o bem mais precioso do capitalismo, tornou-se um luxo. A combinação explosiva de um reordenamento geopolítico acelerado por ações unilaterais e uma montanha de dívida impagável cria um cenário inédito: o risco de estagnação com conflito, um híbrido econômico para o qual os manuais clássicos de gestão não preparam executivo algum. O que está em jogo não é apenas a taxa de crescimento do PIB no próximo trimestre, mas a própria arquitetura do comércio global e a sustentabilidade do estado de bem-estar social no Ocidente.
A Falsa Estabilidade dos Números Agregados
À primeira vista, os números macroeconômicos globais podem enganar o observador menos atento. Uma pesquisa da Reuters com mais de 220 economistas, divulgada em janeiro, prevê um crescimento global de 3% para 2026, exatamente o mesmo patamar projetado há um ano [citation:1]. O HSBC, em nota aos clientes, aponta que parte desse crescimento foi sustentado por “três forças motrizes relacionadas à IA”, que compensaram os ventos contrários da fragmentação comercial e do endividamento. O mercado de ações, notadamente o de tecnologia, continua batendo recordes, sugerindo uma resiliência que desafia a lógica. No entanto, essa aparente calma macro esconde uma turbulência microestrutural sem precedentes. A própria pesquisa da Reuters revela que uma maioria expressiva dos economistas consultados vê os “choques geopolíticos” como o principal risco para a economia global, superando até mesmo a possibilidade de uma correção brusca nos mercados acionários [citation:1]. É a síndrome do “avião andando no meio da tempestade”: a velocidade (crescimento) se mantém, mas a turbulência (risco) torna a jornada profundamente desconfortável e imprevisível. O que os dados agregados não mostram é a realocação forçada de cadeias de suprimentos, o aumento dos custos de capital para países periféricos e a paralisia decisória que toma conta de CEOs diante de um cenário onde as regras do jogo podem mudar da noite para o dia por um decreto presidencial ou uma escaramuça militar em algum ponto estratégico do planeta.
O “efeito Trump” é citado pela Coface como o principal motor dessa incerteza, e os eventos de janeiro de 2026 dão razão à análise. O presidente americano, em seu segundo mandato, não apenas mantém a retórica agressiva, mas a traduz em ações concretas e, não raro, contraditórias. No início do ano, Trump ameaçou impor tarifas de 10% a vários países europeus, incluindo Alemanha, França e Reino Unido, como parte de uma pressão sobre a Dinamarca para ceder a Groenlândia [citation:7]. A medida, segundo analistas do Morgan Stanley, afetaria cerca de 2,2% das receitas das empresas do índice MSCI Europe, um impacto significativo, mas concentrado em setores específicos [citation:7]. Dias depois, em um discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, Trump recuou, anunciando um “acordo-quadro” com a NATO sobre a Groenlândia e suspendendo as tarifas [citation:2][citation:5]. O que parece uma simples reviravolta diplomática é, na verdade, um exemplo clássico da nova forma de governança global: a ameaça crível como instrumento de negociação e a instabilidade regulatória como norma. Para o empresário que planeja investir em plantas industriais ou contratos de longo prazo, essa volatilidade é paralisante. O anúncio de tarifas, seguido de sua revogação, gera uma onda de judicialização nos EUA, como menciona a Coface, e uma onda de insegurança jurídica no resto do mundo.
O Elefante na Sala: Dívida, Demografia e o Fim da Paz Armada
Para além das manchetes sobre tarifas e retórica inflamada, o dado mais preocupante do relatório da Coface é o menos comentado: a dívida pública global atingiu US$ 338 trilhões. Este número, que já ultrapassou o PIB mundial em proporções bíblicas, não é apenas uma abstração contábil. Ele representa uma escolha política concreta das últimas décadas: a opção por financiar o estado de bem-estar social e as guerras (ou a preparação para elas) com dinheiro futuro, contraindo obrigações que as próximas gerações terão de pagar. A situação é particularmente dramática para as economias em desenvolvimento. Como destaca o relatório, muitos países gastam agora mais com o serviço da dívida (juros) do que com áreas essenciais como saúde e educação. Isso cria um círculo vicioso perverso: sem investimento em capital humano, essas nações perdem competitividade, crescem menos e, consequentemente, têm ainda mais dificuldade de pagar suas dívidas, tornando-se alvos fáceis para influência geopolítica de potências rivais. O FMI e o Banco Mundial, tradicionais fiadores da estabilidade financeira em momentos de crise, veem seu poder de fogo diminuir diante da magnitude do problema, enquanto o BIS (Banco de Compensações Internacionais) alerta para o risco sistêmico representado por uma dívida que cresce mais rápido que a capacidade produtiva da economia real.
O contexto histórico é crucial para entender a gravidade do momento. O período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial foi marcado pela construção de instituições multilaterais (ONU, FMI, Banco Mundial) e por uma ordem baseada em regras, ainda que imperfeita, que permitiu o maior período de prosperidade da história da humanidade. O colapso da União Soviética aprofundou essa crença no que Francis Fukuyama chamou de “Fim da História”. A globalização era vista como um processo inexorável, e a geopolítica, como uma relíquia do passado pré-moderno. O que testemunhamos hoje é o fim dessa ilusão. O unilateralismo trumpista é apenas a face mais visível de um fenômeno mais profundo: a reconfiguração do poder global com a ascensão da China como potência rival, a Rússia rearmada e revisionista, e um Ocidente que parece ter perdido a fé em seus próprios valores e instituições. O termo “volatilidade estrutural”, cunhado pela Coface, é uma admissão de que o período de paz duradoura (a Pax Americana) que serviu de base para a expansão econômica global pode estar chegando ao fim. A guerra na Ucrânia e as tensões no Oriente Médio não são mais “conflitos localizados”; elas são sintomas de uma doença sistêmica que corrói a confiança dos investidores e realoca recursos escassos para o setor de defesa, em detrimento de investimentos produtivos.
A resposta a esse novo cenário, no entanto, não tem sido um recuo para o isolamento, mas sim uma febril reconfiguração de alianças. O governo Trump, apesar de sua retórica antiglobalista, tem trabalhado ativamente para construir blocos comerciais alternativos que excluam a China. O Wall Street Journal noticiou que os EUA firmaram acordos com México, Japão e União Europeia para o desenvolvimento conjunto de minerais críticos, essenciais para as indústrias de defesa e tecnologia [citation:9]. A ideia é criar uma “zona de comércio preferencial” que contrarie o domínio chinês no setor. Paralelamente, Canadá e França anunciaram a abertura de consulados em Nuuk, capital da Groenlândia, aprofundando laços no Ártico em meio às crescentes tensões [citation:8]. A Índia, por sua vez, sinalizou uma mudança estratégica significativa ao evitar a compra de petróleo russo para facilitar um acordo comercial com os EUA, demonstrando como o realinhamento geopolítico afeta até mesmo as commodities mais básicas [citation:6]. A lógica da Guerra Fria está de volta: ou você está conosco, ou está contra nós, e o preço da neutralidade pode ser a exclusão econômica. O que está em curso não é o fim da globalização, mas sua substituição por uma globalização fragmentada em blocos rivais, uma “glocalização” forçada que aumenta custos, reduz eficiência e eleva o risco de conflitos por recursos e rotas comerciais.
Diante desse quadro, a posição do conservadorismo clássico e da tradição ocidental cristã não pode ser a de mera nostalgia de um passado que não volta. A defesa intransigente da soberania nacional e da liberdade econômica ganha novos contornos. Em um mundo de blocos rivais, a soberania deixa de ser um conceito abstrato e se torna o único porto seguro para a tomada de decisões que afetam a vida dos cidadãos. A submissão a burocracias supranacionais não eleitas, que defendem uma agenda globalista descolada das realidades locais, torna-se não apenas uma abdicação de responsabilidade, mas um risco estratégico. O ceticismo em relação ao globalismo, um dos pilares do pensamento conservador, revela-se profético: a arquitetura global construída nas últimas décadas mostrou-se frágil diante do retorno da política de poder. A defesa do capitalismo de livre mercado, por sua vez, precisa ser rearticulada. O mercado não é um fim em si mesmo, mas o mecanismo mais eficiente já criado para gerar prosperidade e, com ela, estabilidade social e fomento às tradições que dão sentido à vida. Em um ambiente de alta dívida e risco geopolítico, a intervenção estatal desenfreada, a tentação de controlar preços ou setores inteiros da economia, só tende a piorar o cenário, afugentando o investimento produtivo e aprofundando a estagnação. A saída para a crise da dívida não é mais Estado, mas sim mais eficiência, mais competição e mais responsabilidade fiscal, valores que estão no cerne da tradição que defendemos.
O cenário que se desenha para os próximos anos é o de um mundo multipolar, volátil e endividado. No curto prazo, a expectativa é de que a incerteza política continue a ser o principal fator de precificação dos ativos, com mercados financeiros reagindo de forma nervosa a cada declaração de líderes mundiais. O “comércio de fricção” e a realocação de cadeias de suprimentos devem se intensificar, criando vencedores e perdedores setoriais. Países que conseguirem se posicionar como fornecedores confiáveis de energia e alimentos, como o Brasil, podem se beneficiar, mas também estarão mais expostos a pressões externas. No médio prazo, a questão da dívida se tornará incontornável. O envelhecimento populacional no Ocidente e na China pressionará ainda mais os sistemas de previdência e saúde, enquanto a base de contribuintes encolhe. A equação é simples: ou se promovem reformas estruturais profundas para aumentar a produtividade e cortar gastos, ou se caminha para uma crise de solvência de proporções históricas, com riscos de reestruturações forçadas e calotes. A inflação, que muitos acreditavam ter sido derrotada, pode retornar como um instrumento perverso de alívio da dívida, corroendo o poder de compra dos mais pobres e penalizando os poupadores.
Por fim, o longo prazo reserva o maior de todos os desafios: a reconstrução de um arcabouço de confiança que permita o florescimento humano. A pesquisa do Financial Times com seus leitores revela um dado alarmante: a confiança tornou-se a mensagem corporativa mais importante a ser comunicada aos stakeholders, superando inovação e até mesmo a qualidade do produto [citation:3]. Em um mundo sem previsibilidade, a confiança é o ativo mais valioso e mais escasso. A crise não é apenas econômica ou geopolítica; ela é, acima de tudo, uma crise espiritual. O materialismo raso que dominou o Ocidente nas últimas décadas, a crença de que o progresso era automático e a história um beco sem saída, deixou-nos desarmados para enfrentar o retorno do trágico. A tradição ocidental cristã, com sua ênfase na dignidade da pessoa humana, na família como célula mater da sociedade, na liberdade responsável e na esperança que transcende as vicissitudes da história, oferece não apenas um consolo, mas um roteiro para a ação. Não se trata de impor uma teocracia, mas de reconhecer que instituições e mercados não funcionam no vácuo; eles dependem de uma base moral e cultural que os sustente. O “elefante na sala” da discussão econômica é que não haverá crescimento sustentável sem estabilidade familiar, sem educação de qualidade baseada em valores sólidos, sem o cultivo das virtudes que fazem uma sociedade prosperar: a honestidade, a laboriosidade, a poupança e a lealdade.
A era da volatilidade estrutural chegou para ficar. O risco político recorde e a dívida impagável são os sintomas de um mundo que perdeu suas âncoras. Para o tomador de decisão, o investidor e o líder de opinião, o caminho não pode ser o de tentar adivinhar o próximo movimento tático de líderes imprevisíveis, mas sim o de construir estratégias robustas o suficiente para resistir a múltiplos cenários. Isso significa, na prática, priorizar a resiliência em detrimento da eficiência máxima, diversificar riscos geográficos e setoriais, manter níveis de endividamento prudentes e, sobretudo, investir em capital humano e em ativos reais, como terra e conhecimento, que preservam valor em meio à turbulência. O conservadorismo inteligente não é uma ideologia do medo, mas da prudência. Ele reconhece os limites da razão humana para controlar processos complexos e, por isso, valoriza as instituições que resistiram ao teste do tempo: a propriedade privada, o Estado de Direito, a família, a fé. Em um mundo que parece ter enlouquecido, a sabedoria acumulada pela tradição pode ser o melhor guia.
A pergunta que fica, ecoando nos corredores de Davos e nas mesas de operação dos mercados financeiros, é: o Ocidente ainda tem a vontade e a clareza para defender as bases de sua própria civilização, ou continuará a navegar à deriva, acreditando que o simples fluxo dos negócios e a inovação tecnológica serão suficientes para conter as forças da desordem que ele mesmo ajudou a desencadear? A resposta a essa pergunta definirá o futuro não apenas da economia global, mas da própria liberdade.